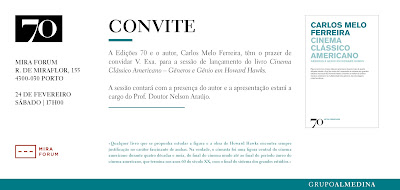quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018
Serei o último
Serei último a defender "A Forma da Água"/"The Shape of Water", de Guillermo del Toro (2017), um melodrama xaroposo situado nos anos 50, com o monstro (a afronta/Doug Jones), o super vilão branco (Richard Strickland/Michael Shannon), a muda (Elisa Esposito/Sally Hawkins), a amiga dela (Zelda Fuller/Octavia Spencer), o pobre de espírito mas bom tipo (Giles/Richard Jenkins), o espião soviético (Robert Hoffstetler/Michael Shuhlbarg) e o mais em termos de clichés, em simples metáfora sobre eles, o outro, a diferença, fantasia sem densidade nem reflexão para além deles.
Serei, contudo, o último a atacar o filme dado o seu humanismo simples para os dias de hoje, na América com um inquilino da Casa Branca "conservador" no mínimo. Também os anos 50 foram uma era de presidência conservadora, que anteciparam a mudança com John F. Kennedy. Talvez que a principal qualidade deste filme seja ser directo e acessível e não ambcionar mais do que isso em tom encantado e musical
Com todas as referências cinematográficas e televisivas da época, em que o melodrama como o musical, a ficção científica como o filme histórico foram géneros em evidência, o cineasta aproveita-as bem mas também a nível elementar, directo e simples, com um argumento da sua autoria e de Vanessa Taylor baseado em história dele a que se fica a dever o seu lado "politicamente correcto", que a realização enfatiza. E Baltimore faz o lugar de "cidade de província", que na época talvez fosse.
Mas é preciso também perceber que o cineasta não se liberta do modelo de "O Labirinto do Fauno"/"El laberinto del fauno" (2006) ou de "Crimson Peak: A Colina Vermelha"/"Crimson Peak" (2015), o que até poderia ser um sinal positivo não se dera o caso de ser uma repetição sem variação nem aprofundamento, tudo superficial e sem avanços que se notem, óbvio e com todos os evidentes segundos sentidos.
"A Forma da Água" tem tudo no seu lugar para os Oscars e para a glória do grande realizador, aliás também produtor, incluindo as referências pseudo-cultas, enquanto que como filme tem todos os clichés que fazem um cinema fraco embora popular, o que não é neste caso indiferente. Prefiro-lhe "Três
Cartazees à Beira da Estrada"/"Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri", de Martin McDonagh, um bem melhor filme (ver "Protesto visível", de 14 de Janeiro de 2018).
Chamo apenas a atenção para a presença constante de uma música de fundo, de Alexandre Desplat, muito boa mas para embalar num filme que como cinema não tem nada, mesmo nada de especial - a fotografia de Dan Laustsen e a montagem de Sidney Wolinsky, tal como as interpretações e a realização são apenas correctas.
Serei o último a defendê-lo e o último a atacá-lo porque é um filme útil no presente momento, com uma simplicidade que não lhe basta para ser um grande filme. Por sua vez o cineasta tem algumas boas ideias sobre a narrativa e sobre o cinema, mas está num impasse criativo, o que se espera venha a ultrapassar no futuro.
Serei o último a defendê-lo e o último a atacá-lo porque é um filme útil no presente momento, com uma simplicidade que não lhe basta para ser um grande filme. Por sua vez o cineasta tem algumas boas ideias sobre a narrativa e sobre o cinema, mas está num impasse criativo, o que se espera venha a ultrapassar no futuro.
terça-feira, 20 de fevereiro de 2018
Memória rápida
"Robert Frank - L'Amérique dans le viseur"/"Don't Blink - Robert Frank", de Laura Israel (2015), percorre rapidamente a vida e a obra do mítico fotógrafo de "The Americans", permitindo com a presença e a palavra dele tornar tudo mais vivaz.
Da sua infância em Zurique, com a memória do pai, também fotógrafo, aos anos 50 americanos - em New York com a beat generation mas percorrendo todo o território com a sua máquina fotográfica - no final dos quais começou a fazer filmes experimentais, e às décadas seguintes, com os seus traços específicos numa experiência pessoal, tudo nos é recordado com imagens.

O testemunho dele é importante na afirmação da criação artística em luta contra o destino (o que aliás é pretexto para uma tradução francesa errada no filme) e na sumária descrição do seu método sem método: quando encontra o que/quem lhe interessa, e o seu motivo principal é a figura humana, dispara a câmara. Claro que para isso tem de procurar.
Mas Robert Frank fala aqui também sobre o irmão, sobre a mulher, Mary e sobre os filhos, sobre colegas e amigos, enquanto são convocados também os seus filmes, em que chegou a abalançar-se na longa-metragem independente, nomeadamente em "Candy Mountain" (1987). Mas a sua paixão foi a fotografia, embora reconheça maior vivacidade ao cinema.
É um bom filme, feito pela montadora habitual dos seus filmes, mas sabe a pouco na sua descrição e recordação rápida de uma vida rica e variada. Passou ontem, segunda-feira, à noite no Arte.
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
O ás do volante
Nicolas Winding Refn é um realizador e argumentista de origem dinamarquesa a viver nos Estados Unidos onde, antes de "Só Deus Perdoa"/"Only God Forgives" (2013) e "The Neon Demon - O Demónio de Néon"/"The Neon Demon" (2016), que não conheço, realizou "Drive . Risco Duplo"/"Drive" (2011), prémio da melhor realização em Cannes, que o Arte mostrou na noite de ontem, Domingo.
Com argumento de Hossein Amini baseado em romance de James Sallis, narrativamente é mais um filme de gangsters com um "ás do volante", Driver/Ryan Gosling, que trabalha como motorista profissional no cinema mas também em assaltos importantes e acaba por participar em mais um para libertar o marido de Irene/Carey Mulligan dos compromissos a que foi sujeito na prisão. Contudo este morre e as coisas complicam-se.
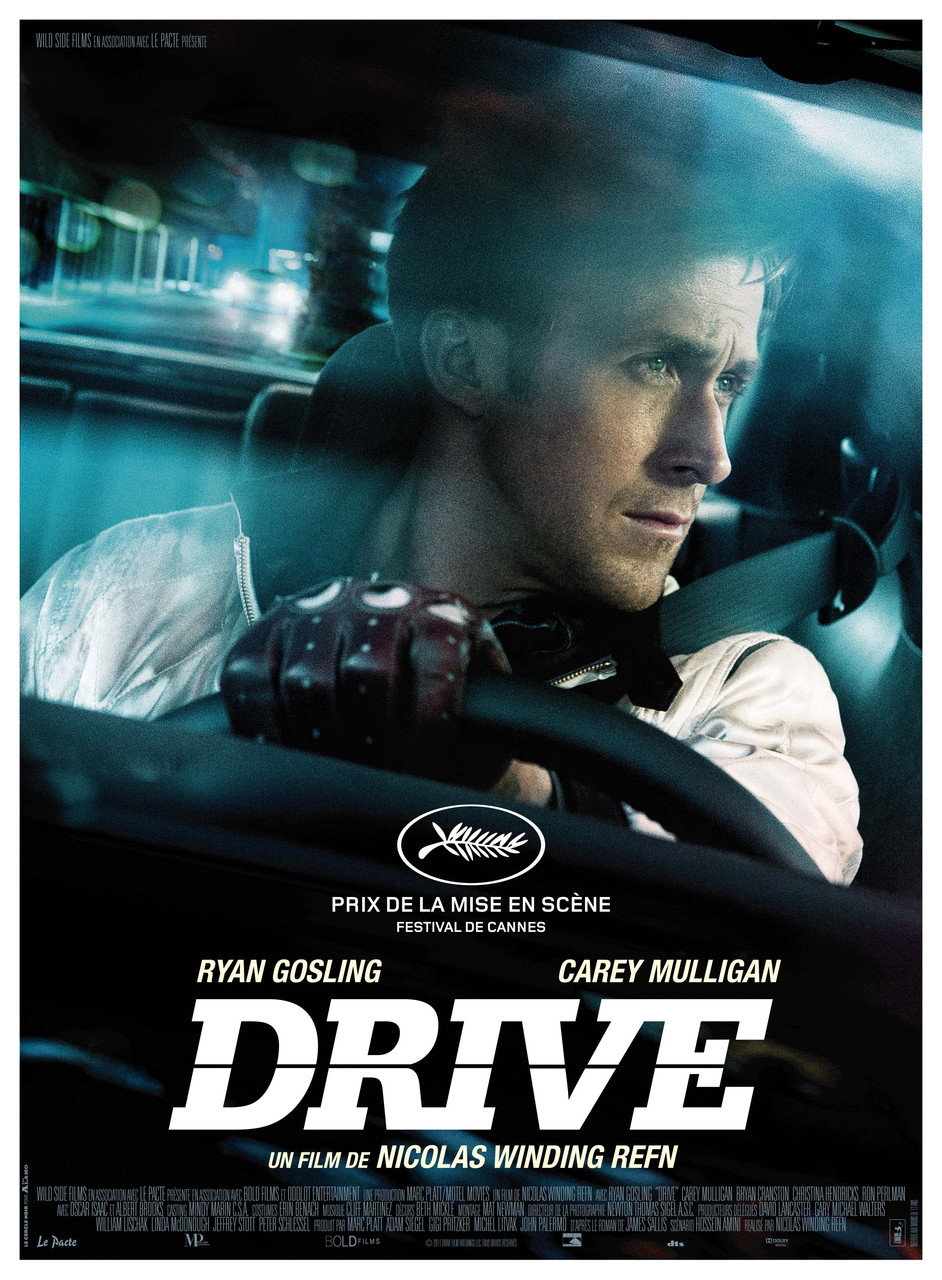
Com uma realização geométrica e muito boa, conta com fotografia de Newton Thomas Sigel, música muito bem utilizada de Cliff Martinez e montagem de Matthew Newman. Beneficia também de boas interpretações e de um final ambíguo.
Poder-se-ia considerar este filme na esteira de Michael Mann, ambicioso e conseguido embora sem novidades especiais. Agora é um filme original e pessoal, bem trabalhado em secu ra, elipse e flash-back.
Numa matéria em que tudo parece já ter sido dito e estar esgotado, consegue com agilidade e desembaraço estabelecer as regras da narrativa e do jogo de forma feliz, sem tropeçar nas armadilhas habituais do lugar comum dos filmes de gangsters.
Numa matéria em que tudo parece já ter sido dito e estar esgotado, consegue com agilidade e desembaraço estabelecer as regras da narrativa e do jogo de forma feliz, sem tropeçar nas armadilhas habituais do lugar comum dos filmes de gangsters.
domingo, 18 de fevereiro de 2018
É melhor a dois
"Olhares, Lugares!/"Visages, Villages", de Agnès Varda e JR (2017), é um belo documentário sobre a França e os franceses, a fotografia e o cinema.
Muito ao jeito dela, que é uma lenda do cinema francês desde a "nouvelle vague" e desde aí se habituou e nos habituou a não fazer filmes para a bilheteira, este é um documentário que, mostrando o presente, evoca o passado dela e do cinema a partir da fotografia a que ela se dedicou e JR se dedica.
A partir da ideia da amplificação de fotografias para a fachada de edifícios, ambos visitam agricultores e operários do noroeste da França em pequenos trechos muito curiosos, enquanto dialogam e se picam um ao outro. Especialmente interessantes a visita à avó dele, centenária, a visita ao porto do Havre e às mulheres dos estivadores, e a visita ao pequeno cemitério onde está sepultado Henri Cartier- Bresson.

Mas a evocação que ela faz do cinema, em especial do seu tempo, tem o maior interesse como memória de uma época crucial da história do cinema de que ela é uma das poucas protagonistas e testemunhas vivas. Desse ponto de vista são especialmente interessantes as recordações do tempo em que, nos anos 60, ela e o Jacques Demy eram convidados do Jean-Luc Godard e da Anna Karina.
Mais importantes são o estudo do quadro da fotografia por ambos, no presente e sobre o passado, o exame ocular dela e as fotografias que ele faz das suas mãos e pés, e mais significativa a visita ao Louvre no rasto de "Bande à part" de Jean-Luc Godard (1964), cineasta mítico como ela que no final, preservando o mito, falta ao encontro com ela marcado, o que a faz chorar apesar da resposta que lhe deixa escrita.
Muito evocativo e muito bem ancorado na actualidade, jogando na dialética presente-passado, este é um filme excelente, patrocinado, entre outros, pelo Arte e pelo MoMA.
quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018
Amores antigos
Baseado no seu próprio livro "L'amour éperdu", "Clémence et Ferdinand" é um belo filme de Florence Mauro (2016), uma escritora e realizadora que já tinha dedicado filmes a Ingrid Bergman e Rossellini, "Rossellini - Bergman, l'amour du cinéma" (2007), e a Simone Weil, "Simone Weil, L'irregulière" (2009).
Dedicado aos avós dela, que surgem primeiro em fotografias a preto e branco de há 100 anos, quando se conheceram corria a I Grande Guerra, até à morte dele, tudo na região na região de Dunquerke e no seu porto, no noroeste de França, onde Ferdinand, engenheiro, foi responsável pela construção do molhe.
No início a preto e branco com as fotografias, o filme passa progressivamente à cor e ao movimento, sempre baseado em imagens de família. As imagens de filmes de época são a preto e branco, com sonorização das vozes, como mais tarde a cores. Mas alternam com imagens muito boas da actualidade. Na banda sonora, além de ruídos palavras murmuradas evocam o passado deles, a sua intimidade e o seu desvelo um pelo outro e pela descendência, filhos e netos.
/apios/Img_data/19/071482-000-A_2312982.jpg)
Não são imagens heróicas de gente heróica mas imagens comuns de gente comum que viveu o seu amor e o alargou do rio até à foz. Com atenção nas palavras aos gestos e olhares, às posturas e aos movimentos, às silhuetas e às proximidades.
Os olhos que olharam no passado ensinam-nos a olhar no presente. Da mesma carne e do mesmo sangue que eles, percebemos a sinceridade do seu amor na sua simplicidade própria, sem arrebiques românticos ou cinematográficos. Eles foram como vistos no seu tempo, e isso nos mostra este belíssimo filme feito com amor sobre o amor, que nas palavras também o imagina.
Todos nós seremos, mais cedo ou mais tarde, fotografias do passado de alguém, o que este filme muito bem mostra e demonstra. Enquanto não vejo o filme da Agnès Varda vejo isto no Arte, em cujo site continua disponível. E aconselho. Para ver ao fim da tarde no computador.
segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018
domingo, 11 de fevereiro de 2018
Vida sem amor
"Loveless"/"Nelyubov", o mais recente filme do russo Andreï Zviaguintsev (2017), é um filme duro sobre um casal em ruptura violenta, Zhenia/Marianna Spivak e Boris/Alexei Rozine, que tem um filho de 12 anos, Aliocha/Matveï Novikov que, farto da casa paterna em desmantelamento ou por outro motivo, desaparece ao fim de 50 minutos.
O cineasta disse que não quis dar explicações sobre os motivos e o desenlace do filme, o que se percebe e resulta bem. Com argumento de Oleg Neguine - que com ele colabora desde "Izgnanie" (2007), inédito entre nós - e seu, o filme gira durante a sua primeira parte em volta do casal em conflito mesmo na presença do filho, cada um deles com uma nova relação já iniciada - como diz Zhenia, ela quer seguir em frente face a Boris cobarde e receoso.
A segunda parte do filme é dedicada à busca infrutífera do miúdo desaparecido, feita por voluntários perante a impotência da polícia. Corre o ano apocalíptico de 2012 e há um conflito bélico em curso com forças ucranianas, percebemos pelos noticiários televisivos. E "Loveless" finda como começou, sobre águas paradas e árvores nuas.


A frieza quase clínica da realização tira o melhor proveito da fotografia de Mikhail Kritchman, usa parcimoniosamente a música de Evgueni Golperini e a montagem de Anna Mass é precisa. O mais são as interpretações sempre justas num quadro sempre rigorosamente definido, que para o final num quarto usa muito bem um espelho.
Depois de "O Regresso/Yozvrashchenie" (2003), "Elena" (2011) e "Leviatã"/"Leviafan" (2014), este é mais um filme muito bom de Andreï Zviaguintsev que, como os anteriores, explora as fissuras da nova Rússia, pós-comunista, sem princípios, sem escrúpulos e sem amor apesar do voluntariado mas também porque ele é preciso, fechada no seu autismo democrático, autocrático e hierarquizado, em que a geração anterior apenas o seu ressentimento e a sua suspeita tem a transmitir aos mais novos - a mãe de Zhenia.
Mas também aí que cada um retire as suas próprias ilações, pois hoje em dia esses são problemas comuns nas sociedades ditas modernas e não é por acaso que "Loveless" muito pertinentemente fecha em ambiguidade e sobre o vazio.
Mas também aí que cada um retire as suas próprias ilações, pois hoje em dia esses são problemas comuns nas sociedades ditas modernas e não é por acaso que "Loveless" muito pertinentemente fecha em ambiguidade e sobre o vazio.
O tempo todo
Este é o título da mais completa exposição do artista plástico e escritor Álvaro Lapa (1939-2006), patente no Museu de Arte Contemporânea de Serralves até 13 de Maio próximo.
Artista pleno, autodidacta como se definia, cruzou a pintura e o desenho com a literatura e a filosofia de uma forma muito pessoal, inspirada e original. De facto, em vários dos seus quadros, como nos seus livros a palavra, em forma narrativa ou aforística, literária ou filosófica, tem o seu lugar, como outras linhas e traços. Questionou-se e questionou-nos sobre as problemáticas centrais do ser humano com uma grande audácia formal, surrealista, e um grande espírito experimental, lúcido e fino.
Na sua abstracção expressiva que cruza formas e mundos, Álvaro Lapa foi uma testemunha descomprometida do seu tempo, fiel a um sentimento pessoal contagioso e de grande alcance. Esta grande e merecida exposição, a maior que lhe foi dedicada até hoje, conta com o mecenato da Fundação EDP e é uma oportunidade única de tomar contacto com a sua obra.
Organizada em séries temáticas, tal como elas foram criadas, abrange toda a sua produção artística desde os anos 50 e poderá permitir não só conhecê-lo a ele mas a segunda metade do século XX português e melhor compreender a arte portuguesa posterior, que ele influenciou. Aconselho vivamente.
quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018
A última viagem
"The Family"/"Jia", de Shumin Liu (2015), é o primeiro filme deste prestigiado director de fotografia chinês, distinguido com diversos prémios, entre os quais do IndieLisboa. Só agora o pude ver e é de facto singularmente belo e especialmente interessante.
Um casal de septuagenários, Liu/Lijie Liu e Deng/Shoufang Deng, que vive no interior com uma filha divorciada, Lqiin/Liqin Huang, e com um neto, Pengpeng/Zepeng Liao, filho desta, que pretende decorar a sua nova casa e arranjar novo marido, parte para as cidades longínquas onde viivem a outra filha, Xiaomin/Xiaomin Liu, casada e com uma filha, Pingping/Erya Chen, e o filho Xufun/Xufun Liu, casado e sem filhos.
Partindo das premissas de "Viagem a Tóquio"/"Tôkiô monogatari", de Yasujiro Ozu (1953), filme que já inspirara a João Botelho "Um Adeus Português" (1986), o objectivo da viagem do casal é tentar obter apoio financeiro para o projecto doméstico da filha mais velha junto dos seus dois imãos. O que é pretexto para os visitar, talvez pela última vez, e para com eles restabelecer o contacto no quotidiano. A Xufun pedem mais um neto e é nesta parte, em Shanghai, que decorrem os momentos mais curiosos do filme, dos jogos de cartas à narrativa por Deng do seu encontro com Liu, no final dos anos 60, e do nascimento dos filhos. O que motiva uma última viagem à Cidade do Sul, onde começaram a viver juntos e onde a saúde dele, canceroso, se agrava.


Adoptando uma estética de plano fixo e longo, que vem de Ozu mas também de Jia Zhang-ke e de Wang Bing, Shumin Liu demora-se especialmente nas personagens femininas e, não ingénuo, não se inibe de, por vezes, estabelecer breves cortes que reduzem a exploração temporal de cada momento. Trabalhando com não-profissionais, o cineasta tira deles o melhor proveito em espontaneidade e improvisação. E cita expressamente o mencionado filme de Ozu pelo menos na cena dos elásticos e da agulha, junto ao caminho-de-ferro.
Há nesta última viagem de um casal idoso um cuidado, uma preocupação com os filhos e o seu bem-estar que faz o encanto deste filme longo e de facto muito bom que, com um bom tratamento do fora de campo e da arquitectura, vem de novo confirmar a evidência do melhor do cinema chinês contemporâneo a partir de um quotidiano comum e comezinho.
O cineasta, também argumentista, director de fotografia e responsável pela montagem, coloca por vezes a câmara um pouco acima das personagens e alterna planos médios e aproximados com planos gerais que permitem uma situação delas no meio geográfico e urbano da China moderna. O final, depois do regresso a casa, é fulminante e não choca a não ser por contraste, antes situa simbolicamente aquele casal num tempo que já não é o dele.
domingo, 4 de fevereiro de 2018
A festa da ópera
Benoît Jacquot e Louise Narboni encenaram e realizaram para a televisão a célebre ópera de Giuseppe Verdi "La Traviata" (2014). Com libreto de Francesco Maria Piave, baseia-se em "A Dama das Camélias", de Alexandre Dumas Filho, e estreou-se no teatro La Fenice, em Veneza, em 1853. Transmitida pelo Mezzo ontem, sábado, à noite, é uma obra-prima da ópera oitocentista, encenada e filmada com grande virtuosismo.
Com Diana Damrau como Violetta, Francessco Demuro como Alfredo e Ludovic Tézier como Giogio, devolve-nos o melhor da ópera em termos superiores em vozes, interpretações e realização. Como se a víssemos pela primeira vez.
Em três actos, e com a música a cargo da orquestra e coros da Opéra Nationale de Paris´sob a direcção de Francesco Ivan Ciampa, com envolvimento da orquestra e também, subtilmente, dos espectadores, este filme dá-nos a ópera da tragédia dos amantes infelizes como universal, talvez também intemporal.

O trabalho de realização é soberbo, com recurso a cenários teatrais, o uso de toda a gama da escala dos planos, do grande plano e do plano de pormenor ao plano geral, especialmente surpreendente no final, e contrastes claro escuro notáveis. Os cenários são investidos de tal modo que dir-se-ia estarmos perante a realidade, que as interpretações e o guarda-roupa definem como teatral, operática.
Este trabalho de Benoît Jacquot e Louise Narboni Narboni está ao nível das melhores óperas feitas em filme: "A Flauta Mágica"/"Trollflöiten", de Ingmar Bergman (1975), "Don Giovanni", de Joseph Losey (1979), "Parsifal", de Hans Jürgen Syberberg (1982). Aqui o sublinho e por isso para esta encenação e este filme chamo a vossa atenção.
Benoît Jacquot já tinha feito um "Werther", de Jules Massenet e Goethe para a televisão em 2010, que não conheço. Quando feita por ele para teatro, esta "La Traviata" foi alvo de vivas críticas na imprensa francesa. Como filme é excelente, até pelo modo como se inscreve na obra do cineasta
Vestir bem
Depois de "The Master - O Mentor"/"The Master" (2012) e "Vício Intrínseco"/"Inherent Vice" (2014), o americano Paul Thomas Anderson estreou "Linha Fantasma"/"Phantom Thread" (2017), um filme de que é também argumentista e director de fotografia.
Ao seu melhor nível, o cineasta centra-se em Londres nos anos 50 onde o costureiro Reynolds Woodcock/Daniel Day-Lewis, com a sua distinta clientela, escolhe aquela que vai ser seu modelo e inspiração e depois se torna mais do que isso, Alma/Vicky Krieps, que o inspira mas também transtorna a sua vida, sob o olhar e na presença da fiel Cyril/Lesley Manville.
Sem o lado romântico que se poderia esperar - recalcado e subterrâneo o que de pigmaliónico tiver -, a relação entre os dois torna-se difícil dada a obsessão dele pelo seu trabalho, e Alma enfrenta uma primeira tentativa de envenenamento dele, benigna e repetida no final, já com o consentimento dele, para resolver o problema. Com base num livro sobre cogumelos.
Nos antípodas da composição fragmentária e múltipla de "Magnolia" (1999), este "Linha Fantasma" não larga os dois protagonistas, com narração de Alma para o médico, até captar as mais pequenas evoluções e as mais subtis modificações de cada um, ora seguindo-o a ele, que coloca mensagens na bainha dos vestidos, a ora acompanhando-a a ela, na passagem da admiração para o amor.
 Obcecado com a perfeição do seu trabalho, ele sente-se progressivamente cercado e recorda a mãe, morta, que lhe aparece no quarto, enquanto ela, depois da sua surpresa mal recebida, sente necessidade de lhe tocar de modo a fazer-se sentir e a fazer-lhe doer.
Obcecado com a perfeição do seu trabalho, ele sente-se progressivamente cercado e recorda a mãe, morta, que lhe aparece no quarto, enquanto ela, depois da sua surpresa mal recebida, sente necessidade de lhe tocar de modo a fazer-se sentir e a fazer-lhe doer.
A narrativa não deixa de lembrar o homem super-protegido e idolatrado de "O Mundo a Seus Pés"/"Citizen Kane", de Orson Welles (1941), que cita expressamente pelo menos na visita do médico ao doente. Mas Reynolds Woodcock ergue em torno de si uma barreira invisível que torna impossível a aproximação por quem quer que seja.
Assim Paul Thomas Anderson prossegue na senda de personagens desajustadas, que têm dificuldade de convívio fora dos seus próprios termos, egocêntricos. Alma é a vida que reviravolteia em torno dele, fixo - veja-se a panorâmica circular em torno dela, que a acompanha -, e que tem de encontrar os seus próprios meios para chegar até ele.
A música de Jonny Greenwood é muito boa e está muito bem utilizada, a montagem de Dylan Tichenor é perfeita e a fotografia assumida pelo cineasta cria os enquadramentos e as desfocagens que ele quer sem prejuízo da visibilidade do que ele quer. A resolução do final entre os dois em campo-contracampo diz tudo do isolamento de cada um apesar da proximidade por fim conseguida por Alma e consentida por Reynolds, o que o genérico de fim põe em causa.
Subscrever:
Mensagens (Atom)